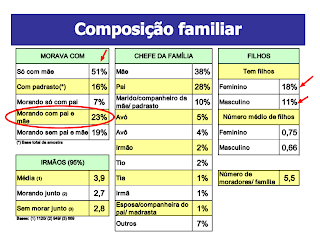Por Thiago Alves Rodrigues
Em obra clássica de interpretação do Brasil (Raízes do Brasil),
ao cuidar dos traços que diferenciaram a colonização das Américas
espanhola e portuguesa, o sociólogo Sérgio Buarque de Holanda não deixou
escapar a forma peculiar de desenvolvimento dos centros urbanos em cada
metrópole. Enquanto os colonizadores espanhóis primavam pelo traçado
linear de suas cidades, os portugueses, segundo o autor, pareciam seguir
mais a rotina do que a razão abstrata.Assim, preferindo quase nunca
contrariar o quadro imposto pela natureza, nossos antepassados seguiam
em expansão pelo território brasileiro, acomodando o perfil de sua
ocupação à linha da paisagem. De fato, dentre o legado deixado pela
colonização lusitana, a falta de planejamento urbano é um aspecto que
permanece bastante arraigado em nossa cultura. Há pouco tempo, por
exemplo, causou polêmica a notícia da construção de um muro de três
metros de altura para evitar o avanço das favelas cariocas sobre as
matas e áreas de risco. O extremismo da medida tomada pelo governo
fluminense naquela oportunidade suscitou reações das mais diversas,
tendo havido até quem comparasse a referida construção aos muros de
Berlim e da Palestina, edificações famosas pelo forte signo de
segregação que encerram.
Independentemente
da pertinência ou não da comparação, acontecimentos como esse servem
para trazer à tona os reflexos de décadas de omissão da União, dos
Estados e dos Municípios em viabilizar o direito humano fundamental à
moradia adequada e provocam reflexões sobre consequências mais graves
que podem advir desse secular descaso.
Ainda
hoje, chama a atenção como as cidades brasileiras crescem perpetuando a
“rotina” diante dos olhares negligentes dos poderes públicos. Por todos
os cantos, multiplicam-se, dia a dia, construções perigosamente
irregulares em encostas e áreas de preservação permanente, expondo a
risco, sobretudo, a parcela mais carente da sociedade, que busca tais
lugares menos por opção do que impelida pela necessidade de umahabitação
própria.
Todos
os anos tragédias se repetem ocasionadas, em sua grande parte, por
essas ocupações irregulares, deixando consigo, muito além do rastro de
destruição, a dura lição de que parte significativa das perdas humanas e
materiais advindas desses eventospoderiam ter sido evitadas se lá no
passado, quando as cidades começaram a se desenvolver, tivesse havido
planejamento e ação por parte dos governos.
A
Constituição Federal de 1988 obriga todos os municípios com mais de
vinte mil habitantes a contar com um instrumento básico de política de
desenvolvimento e de expansão urbana, chamado plano diretor. Em linhas
gerais, o plano diretor é uma lei, discutida pela população (com a
participação de especialistas) e aprovada pela Câmara Municipal, que
estabelece as diretrizes racionais para ocupação da cidade, de acordo
com as características geográficas de cada localidade. A legislação
infraconstitucional prevê, inclusive, responsabilidade por improbidade
administrativa para prefeitos e vereadores que não tomarem providências
para a aprovação do plano diretor.
Segundo
dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC), realizada
pelo IBGE em 2008, a maioria das cidades com população superior a vinte
mil habitantes já havia declarado ter cumprido com a obrigação
constitucional, aprovando seus planos diretores. Mas a pesquisa também
revela que quase dois terços das cidades brasileiras ainda não contavam
com tal instrumento jurídico-político.
Se,
por um lado, os municípios com população acima de vinte mil habitantes
já despertaram para a importância do plano diretor para conciliar o
desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e a manutenção da
qualidade de vida; por outro, os números (e a realidade concreta)
indicam que os municípios abaixo dessa faixa populacional parecem não
encarar a questão como uma prioridade. E é lamentável que assim o seja.
Mesmo
as cidades que hoje não são obrigadas a ter um plano diretor deveriam
se preocupar mais com a questão, pois são as que apresentam melhores
condições de implementar com sucesso um planejamento urbano eficiente.
Nesses lugares, onde o crescimento demográfico ainda é incipiente, as
distorções urbanísticas tendem a ser reversíveis, e as medidas de
intervenção política, igualmente, tendem a causar menores sacrifícios à
população.
A
despeito de a imposição constitucional vincular apenas os municípios
maiores, a história demonstra que não se pode esperar que as cidades
cresçam para que, só então, a questão urbanística passe a ocupar o lugar
de destaque que merece dentre os demais assuntos afetos à
municipalidade. O momento de pensar sobre o crescimento ordenado de
nossas cidades é agora, enquanto tragédias humanas podem ser evitadas.
Artigo publicado em 09 de fevereiro de 2012 em O Fato (Cachoeiro de Itapemirim)